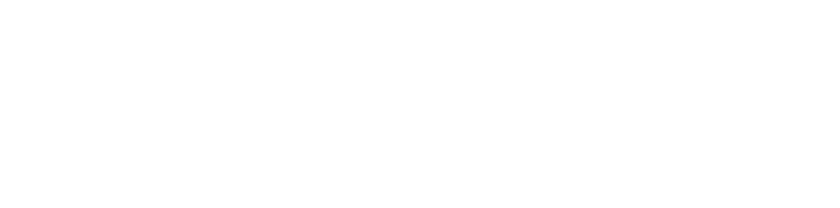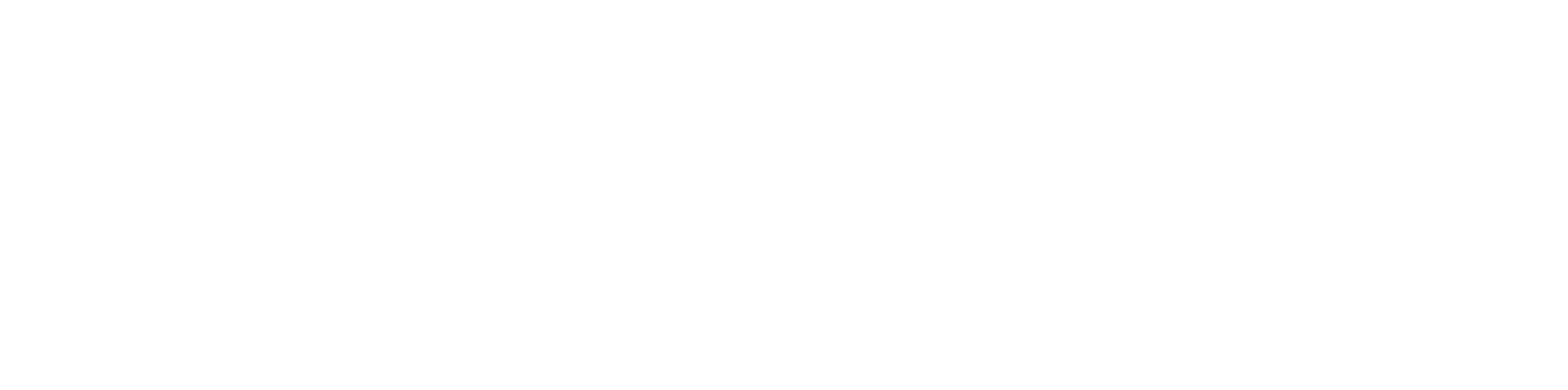O meu primo Ayrton
A 1 de maio de 1994 a minha vida ficou virada do avesso: foi o dia em que desapareceu Senna e eu entendi o que era, então, a morte.
Até ali, eu não sabia bem o que era a morte. Não sabia talvez por a minha mãe, um ano antes, ter evitado o meu conhecimento precoce de coisa tão definitiva, resguardando-me do funeral da sua mãe. Aos seis anos, eu sabia, claro, que a minha avó já não estava ali, mas não tinha noção que o ciclo da vida podia, sim, ser interrompido de forma brutal, que não era coisa só de velhinhos, que os jovens heróis também desaparecem, que invariavelmente a nossa passagem pela terra, por mais estrondosa, mediática, faustosa que seja, está sempre nas mãos dos outros.
Quando o braço da direção do Williams de Ayrton Senna se partiu em dois e o carro do brasileiro bateu desgovernado no muro de cimento da curva Tamburello - nome que nunca mais me saiu da cabeça e que desde então associo a coisas terríveis -, a minha vida ficou virada do avesso. É um exagero, eu sei, mas tentem explicar a uma criança que o seu primeiro ídolo desapareceu, ainda por cima a fazer aquilo em que era o melhor, e mesmo que naquela altura não fosse de caras o melhor, continuava a ser o mais carismático, o mais talentoso, o mais mágico, o mais malandro, aquele que nos fazia a cada quinze dias, a mim e à minha família, ligar a televisão ao fim de semana pela hora do almoço, os únicos almoços em que estávamos juntos, para vermos o Grande Prémio, isto quando a Fórmula 1 ainda era assunto de canal aberto.
O Grande Prémio era um ritual nosso. Um ritual que começava ao sábado e só acabava à segunda-feira, quando o meu pai chegava a casa à noite com o "Autosport" debaixo do braço, com um ar entre o jocoso e o preocupado por saber que ia haver berreiro entre as duas filhas pela posse do jornal. Aquele acidente, a 1 de maio de 1994, Dia da Mãe, abanou o aconchego das coisas que nos são certas, do que nos une sem sabermos sequer explicar porquê. Porque é que gostávamos dele? Talvez fossem só os luminosos olhos de Senna, a sua malandrice, a forma como desafiava as regras ou também a nossa ligação aos tios e primos lá longe no Brasil, que eu então desconhecia, mas sabia, por eles e por Senna, ser um país de gente extraordinária mas de desigualdades incompreensíveis.
Podia estar aqui a falar do dia 1 de maio de 1994 e de como estávamos os quatro não na sala lá de casa em frente à televisão, uma Singer que era um caixote feio mas que durou uma vida, mas na nossa pizzaria favorita, ali na beira da Estrada Nacional 1, a mesma estrada que faz de tantos de nós vizinhos, mesmo tendo crescido a 100 quilómetros de distância. Podia falar de como festejávamos o Dia da Mãe e de como as pizzas acabaram frias, porque nos especámos em frente à pequena televisão cinzenta do restaurante, de pé, à procura de entender porque é que o nosso ídolo estava rodeado de gente vestida de branco, ao lado do carro desfeito, porque é que ele não se levantava, porque é que estava ali um helicóptero para o levar.
Mas falar-vos-ei dos dias seguintes, porque pior que o domingo foram os dias seguintes. De como a minha irmã chorou inconsolavelmente durante o funeral, transmitido em direto de São Paulo - e então aí eu soube o que era um funeral -, com milhares de pessoas ali, gente que chorava porque não ia embora só o mais brilhante das pistas, ia embora um rapaz de sorriso aberto que dava de comer a muita gente naquele Brasil feito ao mesmo tempo das mansões das novelas da Globo e das favelas encavalitadas a perder de vista, como se desaparecesse também um bocadinho do que restava da moralidade daquele sitio. Já não bastava perder o piloto, também tínhamos de perder o homem, tudo naquela curva cujo-nome-não-quero-pronunciar, caramba.
Ou de como peguei numa revista que guardávamos como um tesouro, uma dessas revistas do coração, como dizem os espanhóis, em que Senna aparecia ao lado da nova namorada, os dois lindos, radiosos, com a aquela corzinha de sol suave, a posar felizes em Angra dos Reis ou Búzios, sei lá, um desses sítios onde o rico de São Paulo e do Rio tem a sua casa de fim de semana; de como eu peguei nessa revista e a esquartejei, porque queria guardar só para mim as últimas fotos de Senna a sorrir e de como isso ia provocando uma guerra civil no país do nosso quarto, meu e da minha irmã, que é cinco anos mais velha que eu e por isso viveu o 1 de maio de 1994 e os dias seguinte com muito mais violência. Colámos o que foi possível colar com fita-cola, ao menos aquele pedaço de Senna dava para salvar.
E também de como fiquei obcecada pela morte na Fórmula 1 e de como, quando aprendi a ler melhor, praticamente decorei uma lista de fatalidades de quase 50 anos e percebi que havia maneiras horríveis de morrer dentro de um carro de competição. De como gravei para sempre os nomes de Wolfgang von Trips, Jochen Rindt, Ronnie Peterson ou Gilles Villeneuve, era tão bonito, dizia-me a minha mãe, era o preferido dela e também se foi cedo.
Ou de como o meu primo Jorge, lá longe em Angola, de tão triste com a perda, chamou Ayrton ao primeiro filho.
Muita gente vos dirá que depois da morte de Senna nunca mais viu uma corrida de Fórmula 1. Pelo menos dirão, desalentados, que a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma - e não foi, para o bem e para o mal. Tornou-se mais segura, mas nunca mais houve um cafageste do bem como Senna. Mas felizmente, até os canais por cabo abocanharem um desporto que até então nunca havia sido para as elites, os fins de semana lá em casa não deixaram de ser de ritual. Órfã de Senna, passei a torcer por Damon Hill, bom rapaz mas destalentado, apenas porque era seu colega de equipa e, acima de tudo, porque não era Schumacher, o homem que veio tomar o lugar do brasileiro, coisa que, para uma criança de seis anos, não era compreensível ou perdoável.
E uns meses depois, só uns meses depois, passei a gostar muito de futebol. E até aqui a culpa é de Senna: durante o Mundial de 1994, como que para compensar a ausência de Ayrton, eu e a minha irmã torcemos apaixonadamente pelo Brasil de Romário e Bebeto. Pintámos bandeiras a lápis de cor, às quais não faltava sequer o "Ordem e Progresso", sofremos que nem condenadas durante a final com a Itália.
É possível que o nosso luto só tenha terminado quando no relvado do Rose Bowl, já de taça na mão, os jogadores brasileiros desfraldaram uma enorme faixa em que se podia ler: "Senna… aceleramos juntos, o Tetra é nosso!". Se ele estava em paz, nós também estávamos.
FONTE: TribunaExpresso