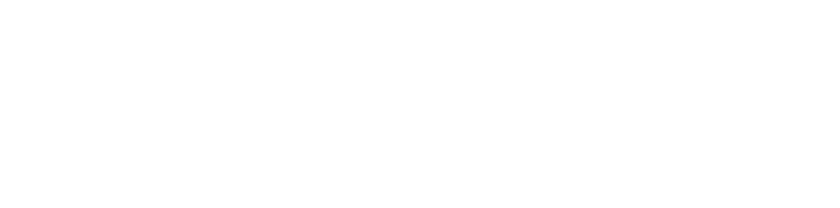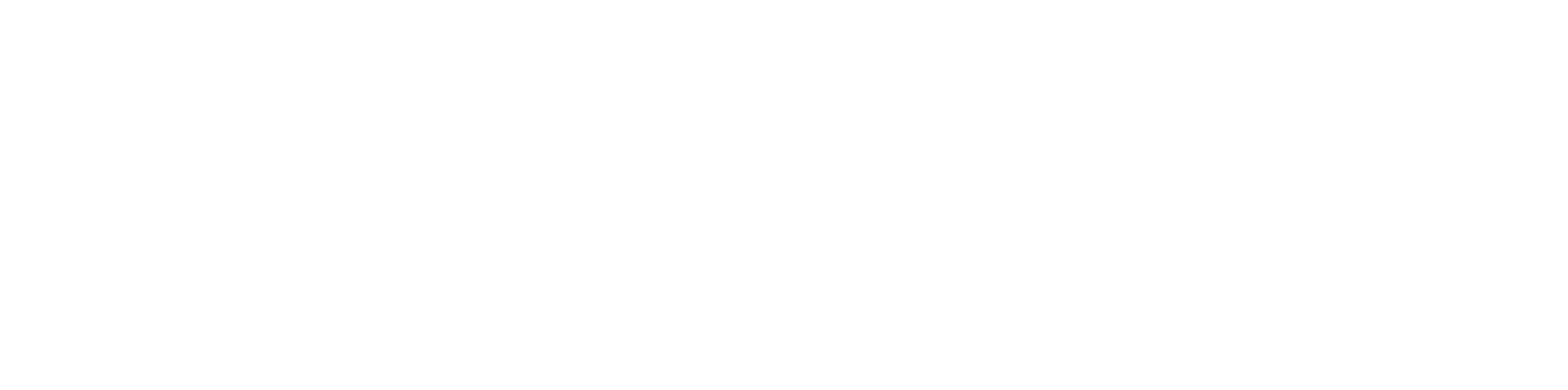O humilde Rui Patrício
O escritor Bruno Vieira Amaral fala-nos de um rapaz de Marrazes que, fosse um pouco mais arrogante, talvez tivesse o Mundo a seus pés. Não tem, mas para a nossa seleção é um depósito de oxigénio contra a asfixia.
No futebol, o zero tanto pode ser sintoma de esterilidade como de uma gravidez perpétua, plena de coisas que não aconteceram. O zero pode deixar um travo amargo no final do jogo ou pode ter o sabor de uma conquista. Para Portugal, empatar a zero em Itália teve este último gostinho, ao que se acrescentou o prazer de aplicar aos italianos a receita que não foram eles a inventar, mas que exploraram como ninguém. Precisávamos de um pontinho e fomos lá buscá-lo sem sofrimento excessivo. Os pessimistas dirão que o ponto nos caiu do céu. Os otimistas dirão que, mesmo após algumas contusões, estávamos lá para o apanhar. Os exultantes louvarão o pragmatismo e falarão, sim, do “catenaccio” virado contra o serralheiro.
“Catenaccio” significa ferrolho, mas isso é algo que os adeptos de futebol fora de Itália só descobrem depois de a palavra se instalar no seu léxico futebolístico com uma ressonância que a mim me lembra morte por asfixia e falta de ar em geral. Em campo, o “catenaccio” é uma manobra de constrição que confia no atrevimento do adversário. Mas também pode ser visto como um golpe ou um movimento executados com a deliberação e o rigor de um ataque. Se olharmos para o jogo com atenção teremos de reconhecer que, por muito que o resultado nos agrade, Portugal não pôs em prática nenhuma variante de “catenaccio”. Para sermos honestos, a seleção nem sequer foi a Itália para jogar à defesa, numa adaptação moderna da máxima de mestre Pedroto: “jogar ao ataque, fechadinhos lá atrás.” O “fechadinhos” pressuporia um humilde ajuntamento de jogadores solidários com a única ambição de não sofrer golos. Porém, o que aconteceu a Portugal na primeira hora de jogo não teve que ver com qualquer estratégia, foi apenas a squadra azzurra a empurrar-nos para trás, recordando a Bernardo Silva os tempos em que Jorge Jesus, por falta de paciência, o imaginou lateral. Para poupar nas palavras, fiquemos com esta: sufoco.
Para estas ocasiões de quase asfixia, Fernando Santos tem a sorte de contar na baliza com um depósito de oxigénio. Rui Patrício, que foi o verdadeiro Ronaldo da final do Euro, atingiu um nível que, nas últimas décadas, só se compara ao de Vítor Baía. Sem desprimor para o clube inglês e para os talentos de Jorge Mendes, os adeptos perguntam-se como é que um guarda-redes desta qualidade vai parar ao Wolverhampton. E aí entra na equação o conjunto de qualidades intangíveis que separa os bons guarda-redes daqueles que tocam a grandeza. Uma grandeza que não resulta tanto da soma das qualidades e do brilhantismo das defesas, mas de uma espécie de aura que os acompanha, que precede as exibições, que lhes atenua as falhas e sublinha os feitos. Quando um destes guarda-redes – e em cada geração haverá, no máximo, cinco ou seis assim – dá um frango isso é visto como um acidente secundário na sua caminhada cósmica. Já as grandes defesas são entendidas não como algo que eles fazem, mas como aquilo que são. Um guarda-redes que seja apenas bom partilha sempre os méritos com a inspiração momentânea, a sorte, o acaso. Os grandes guarda-redes atraem para si as justificações de tudo o que fazem de magnífico.
Se analisarmos apenas o que Rui Patrício tem feito, ele merece integrar, sem qualquer favor, a lista dos melhores guarda-redes do mundo. No entanto, algo o impede de ascender ao patamar de outros como Neuer, Oblak, Courtois, De Gea, Alisson e até mesmo Ederson. Não é o único a sofrer desse mal que condena bons guarda-redes a uma espécie de segunda divisão, acima da mediania, mas às portas da excelência. Veja-se Keylor Navas. Dá a impressão de ser baixo (tem 1,85m) e não há nada – nenhuma exibição, nenhuma defesa, nenhuma época perfeita, nenhuma conquista – que lhe dê em reconhecimento os centímetros que lhe faltam na perceção dos adeptos. Um clube como o Real Madrid não se pode dar ao luxo de entrar em campo com um bom guarda-redes, tem de entrar em campo com uma lenda, alguém que intimide os adversários, que os amedronte, que obrigue o avançado isolado a ver mais guarda-redes do que baliza. Pense-se também em Hugo Lloris. Bom guarda-redes, sem dúvida, titular da seleção campeã do mundo, mas traído por aquele ar discreto de dentista do Languedoque.
Reflexos, agilidade, elasticidade e posicionamento são fundamentais para um bom guarda-redes. Para um grande guarda-redes é preciso outra coisa, um ingrediente raro e de difícil definição. Chamemos-lhe carisma, para entrarmos no domínio movediço entre o futebolístico e o religioso. É esse carisma que falta a Rui Patrício. Talvez seja uma questão fisionómica. O semblante impassível de um Oblak, o olhar frio de Casillas, a expressividade neutra de um Ederson, cujo ligeiro prognatismo lhe empresta um ar temível e indecifrável de cão de guarda, são bons exemplos de que, nos guarda-redes, a aparente ausência de emoções é sua forma peculiar de exuberância. Buffon será uma exceção à regra, mas aí o porte de condottiero e a intensidade física são os ingredientes do seu carisma. Durante grande parte da carreira, Rui Patrício teve o ar de quem podia entrar em pânico a qualquer momento, o que o impediu de se inscrever na linhagem dos imperturbáveis, e nunca revelou aquela loucura salutar através da qual outros guarda-redes se intrometem na categoria restrita da grandeza. Se fosse um pouco mais arrogante, talvez Patrício tivesse o mundo a seus pés. Assim, tem de se contentar em ter a seleção nas suas mãos. Não é coisa pouca para um rapaz de Marrazes.
FONTE: TribunaExpresso